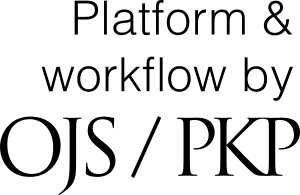The Global Labour Journal is a proudly open-access venue for research on global labour studies. The Journal needs support to continue its work and to preserve its open-access status. Your support will help keep important research and debates freely available to academics and labour activists throughout the world regardless of finances or institutional affiliation. Thank you!